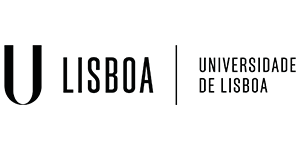Publicações
Para a submissão de artigos ou Working Papers para o CEsA, favor enviar um email para: comunicacao@cesa.iseg.ulisboa.pt

Working Paper 87/2010: Mercado e trabalho: questões de género
Resumo:
Mercado e trabalho: questões de género tem por base reflexões suscitadas em observações efetuadas em feiras e mercados de Cabo Verde e Guiné-Bissau, no âmbito do projeto Visita Exploratória intitulado “Feiras livres e mercados no espaço lusófono: trabalho, sociabilidade e geração de renda”. Nesse projeto, investigadores do Brasil (a Profa Leny Sato), de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, visitaram feiras e mercados nos 3 países e tinha por objetivo conhecer aspectos importantes das dinâmicas cotidianas dessas ações organizativas, dos processos que ali organizam o trabalho e de algumas trajetórias de vida de trabalhadores e agentes que constroem micro-empreendimentos nesses contextos organizacionais. As reflexões que aqui trago centram-se, sobretudo, em situações observadas em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, porque nestes dois países ficou muito mais visível a divisão de trabalho a partir da categoria género, enquanto a feira de São Paulo mostra muito mais o trabalho como ocupação da família. A demanda por desenvolvimento, autonomia e igualdade de oportunidades em países recém-independentes como Cabo Verde e Guiné-Bissau introduz-se no âmago da relação inter-humana e a dinâmica da igualdade acabou por introduzir-se num domínio por muito tempo escamoteado: as relações entre homens e mulheres. Nesses países, no período do socialismo e atualmente – que muitos denominam de pós-socialista -, com o novo projeto de sociedade, procura-se demonstrar a equivalência entre os sexos de forma inequívoca no domínio público, intelectual e social, com leis mais favoráveis ao estatuto jurídico da mulher que trabalha, e ao mesmo tempo, aposta-se no investimento no domínio profissional da mulher. As mudanças de caráter político nesses dois países vão além das mudanças em relação ao acesso ao emprego e englobam a construção de novos significados para o trabalho e as atividades na família, bem como as mudanças no sentido feminino do lugar das mulheres na sociedade. Ou seja, nos novos contextos políticos, assistimos ao desenho de novas fronteiras entre as esferas do trabalho e da família, mas é importante assinalar que as mudanças nas relações entre trabalho e família têm consequências diferentes para homens e mulheres na vida real.
Citação:
Évora, Iolanda. 2010. “Mercado e trabalho: questões de género”. Instituto Superior de Economia e Gestão. CEsA – Documentos de Trabalho nº 87/2010.
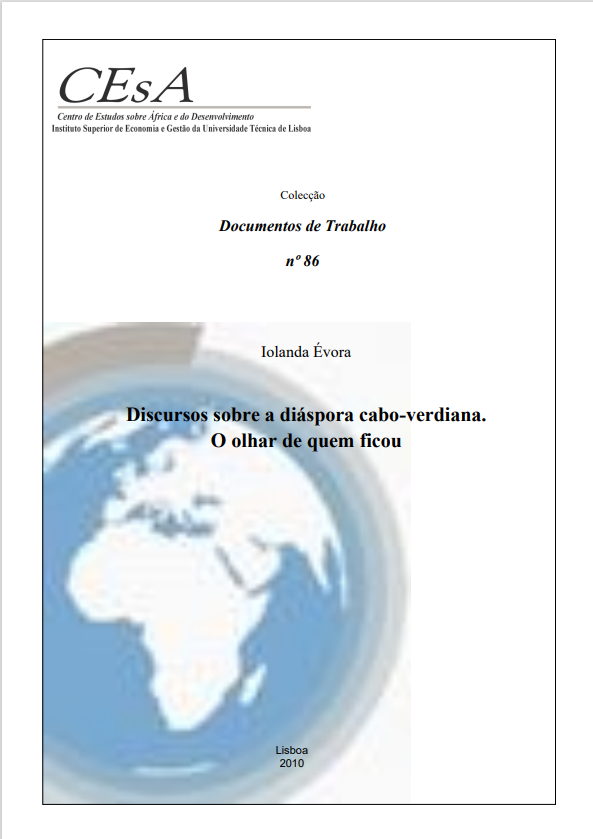
Working Paper 86/2010: Discursos sobre a diáspora cabo-verdiana: o olhar de quem ficou
Resumo:
O interesse no tema de Discursos sobre a diáspora cabo-verdiana: o olhar de quem ficou inclui-se na nossa proposta mais ampla de estudos sobre a migração caboverdiana e, mais especificamente, dentro deste campo, na intenção de aprofundar o conhecimento sobre o posicionamento dos diferentes grupos ou segmentos sociais em relação à migração cabo-verdiana, dentro e fora do país. A ideia é sublinhar que o campo da migração cabo-verdiana é muito complexo, que mostra-se propício à reprodução das divisões sociais e de classe que nascem no arquipélago, não podendo, portanto, ser abordado como se sobre ele todos os cabo-verdianos e descendentes tivessem a mesma perspectiva e expectativa. Neste sentido, as próprias concepções generalistas sobre a migração cabo-verdiana devem ser entendidas como resultado de disputas entre grupos para imposição das suas concepções sobre a migração. Em relação a Cabo Verde, a ênfase sempre recaiu na formação de uma identidade especificamente diaspórica pela qual, de forma aparentemente paradoxal, o cimento seria constituído pela dispersão espacial e a referência comum a uma origem quase mítica de uma terra-mãe madrasta. De forma imaginária, tornaram positiva a caboverdianidade diaspórica, mas em nome das condições adversas na origem, esse mal inicial, atribuíram-se dons excepcionais a esse povo disperso advindos de um destino ingrato.
Citação:
Évora, Iolanda. 2010. “Discursos sobre a diáspora cabo-verdiana: o olhar de quem ficou”. Instituto Superior de Economia e Gestão. CEsA – Documentos de Trabalho nº 86/2010.
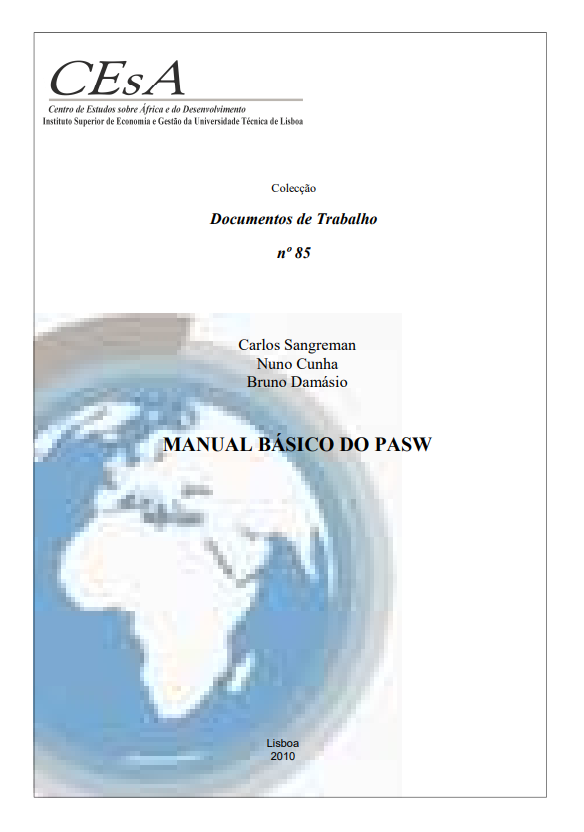
Working Paper 85/2010: Manual básico do PASW
Resumo:
O texto deste pequeno Manual básico do PASW começou a ser construído para uma formação na Guiné- Bissau, em 1999, no âmbito do projecto “Observatório do Bem-estar num bairro sub urbano de Bissau” financiado pelo Ministério do Trabalho e Solidariedade (actual Ministério do Trabalho e Segurança Social) e executado pela ONG guineense Associação para o Desenvolvimento (AD). Pretende-se explanar um modo rápido e eficaz de se utilizar o PASW Statistics 18 (ex-SPSS) no manejamento e análise de dados. Ou seja, a forma como a abordagem de dados pode ser realizada no domínio das ciências sociais utilizando a estatística descritiva. Salienta-se a melhor forma de contornar diversas vicissitudes intrínsecas ao processo de elaboração de uma base de dados no programa em questão. Frisa-se não só a introdução de conceitos estatísticos elementares, bem como a sua aplicação no âmbito dos procedimentos inerentes ao tratamento de informação recolhida em contexto de inquérito. Este Manual é uma obra evolutiva que foi expressamente construída para ensinar em África o apuramento estatístico de dados a pessoas com esse tipo de trabalho e com preocupações muito práticas, de forma a esses técnicos terem as suas capacidades alargadas de forma sustentada, sem aumentar a sua dependência do exterior.
Citação:
Sangreman, Carlos . Nuno Cunha e Bruno Damásio. 2010. “Manual básico do PASW”. Instituto Superior de Economia e Gestão. CEsA – Documentos de Trabalho nº 85/2010.
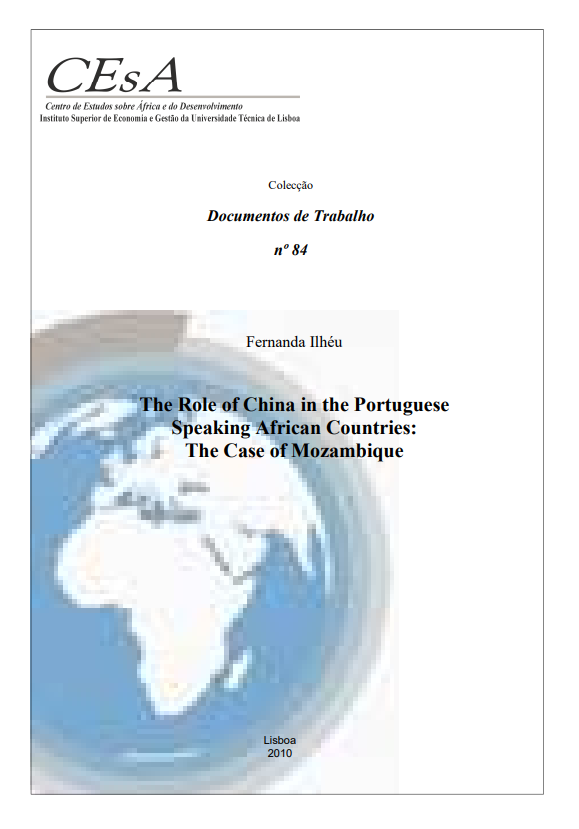
Working Paper 84/2010: The role of China in the portuguese speaking african countries: The case of Mozambique
Resumo:
Devido às Políticas de Reforma e Portas Abertas iniciadas em 1978, a China registrou um rápido crescimento econômico sustentável com uma taxa média estimada de crescimento do PIB de 9,7% no período de 1980-2008, tornando a China – em 2009 – a segunda maior economia, logo após os EUA. Com um modelo económico orientado para a exportação, fortemente apoiado por IDE, maioritariamente de países desenvolvidos, a China é, desde 2002, o país em desenvolvimento mais atrativo para os fluxos de IDE, tanto a curto como a longo prazo, tornando-se não só a fábrica mundial, mas também o seu número um exportador, após ultrapassar a Alemanha em 2009. Com o maior superávit em conta corrente, a China conseguiu alcançar uma reserva cambial de US$ 2,2 trilhões – a maior moeda de reserva do mundo. Cerca de 50% desta enorme reserva está a ser aplicada em obrigações americanas, enquanto o restante apoia os sistemas de saúde e segurança social chineses, solvabilidade dos bancos chineses, internacionalização da economia chinesa, investimento em posicionamento geoestratégico para garantir a independência energética e disponibilização de ajuda externa a outros países em desenvolvimento. Durante a crise global de 2008, a China conseguiu resistir melhor do que as principais economias mundiais, mesmo se beneficiando dessa retração para implementar políticas para reduzir seus desequilíbrios econômicos. Um desses desequilíbrios é a lacuna entre o IDE chinês e o IDE, que agora está diminuindo progressivamente. De fato, em um futuro próximo, espera-se que o OFDI seja ainda maior que o IDE. Principalmente dois tipos de IDE chinês podem ser distinguidos: investimento orientado para o comércio e investimento em busca de recursos. O apoio governamental, incluindo a assistência oficial ao desenvolvimento (ODA) tem sido crucial para o investimento em busca de recursos. Embora o investimento chinês esteja hoje mais orientado para as economias maduras, o seu volume dirige-se principalmente para os restantes países em desenvolvimento, principalmente para os países da América Latina e agora também para os países africanos. Na sequência do Consenso de Pequim, os planificadores chineses estão a impulsionar parcerias com países africanos e dentro destes, o governo chinês identificou um grupo estratégico que vale a pena cooperar e investir, os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa que estão ligados através de uma rede de língua e cultura entre si e também para outros espaços econômicos geoestratégicos; para a Europa via Portugal, para a América Latina via Brasil e para a Ásia via Macau. Esses países africanos têm grandes expectativas sobre a cooperação chinesa e nossas questões de pesquisa são: (a) Este investimento deve ser considerado ODA ou OFDI; (b) Até que ponto os fluxos financeiros chineses podem contribuir para o desenvolvimento desses países em termos de emprego, exportações, transferência de tecnologia; (c) esse investimento é visto como uma oportunidade ou uma ameaça pela população local, está atendendo às expectativas criadas ou não? Em The role of China in the portuguese speaking african countries: The case of Mozambique o nosso caso empírico é pesquisar a percepção do governo moçambicano sobre o investimento chinês na APD e OFDI, e as conclusões foram alcançadas analisando as opiniões dos altos funcionários do governo moçambicano expressas publicamente ou resultantes das suas respostas às perguntas dos meios de comunicação. Também tentaremos encontrar dados secundários com informações sobre a percepção da população sobre a presença da China em Moçambique através de dados secundários.
Citação:
Ilhéu, Fernanda. 2010. “The role of China in the portuguese speaking african countries: The case of Mozambique”. Instituto Superior de Economia e Gestão. CEsA/ Documentos de Trabalho nº 84/2010.
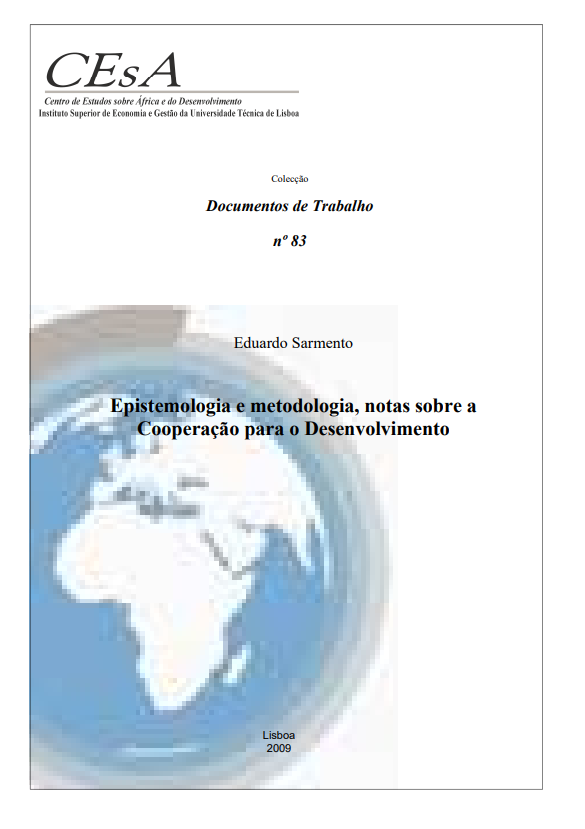
Working Paper 83/2009: Epistemologia e metodologia, notas sobre a cooperação para o desenvolvimento
Resumo:
A discussão sobre o que se entende por epistemologia, qual é o seu estatuto e o seu papel enquanto disciplina tem-se perpetuado como um tema controverso ao longo dos anos. Para esta situação não será alheio o facto de se estar perante um tema que é susceptível de assumir diferentes perspectivas consoante a formação científica dos autores que estão envolvidos bem como o facto da epistemologia constituir um campo científico dificilmente delimitável devido às suas inúmeras fronteiras com outras áreas. Em Epistemologia e metodologia, notas sobre a cooperação para o desenvolvimento, tivemos de assumir algumas opções e de delimitar o seu âmbito, porquanto não é nossa pretensão encetar uma discussão exaustiva sobre a história da sua evolução e as diferentes perspectivas, mas tão só enquadrar os principais aspectos subjacentes à sua caracterização, de molde a se poder continuar para a construção de um corpo teórico que permita enquadrar e aprofundar o tema de análise proposto com o actual projecto de investigação. Podemos então por começar por focar a nossa atenção na noção de episteme de onde provém o termo epistemologia. Tradicionalmente, segundo os gregos, este termo significa “conhecimento”. Todavia, se efectuarmos uma breve reflexão sobre a discussão histórica da epistemologia rapidamente constatamos que existem diferentes perspectivas, essencialmente provenientes da tradição clássica, da filosofia platónica e da aristotélica. Independentemente do tipo de tradição, podemos destacar o papel fundamental que o problema da justificação ou da fundamentação da crença verdadeira detém na epistemologia. De facto, o conhecimento pode ser caracterizado, desde Platão, como uma crença justificada e que pressupõe a resposta da questão originária sobre o que é conhecer.
Citação:
Sarmento, Eduardo. 2009. “Epistemologia e metodologia, notas sobre a cooperação para o desenvolvimento”. Instituto Superior de Economia e Gestão. CEsA – Documentos de Trabalho nº 83/2009.

Working Paper 82/2009: Uma aplicação da metodologia de G. Hofstede: inquérito à cultura organizacional das ONGD em Portugal, Guiné e Cabo Verde
Resumo:
O PROCODE tem como um dos seus objectivos caracterizar três dos actores da cooperação descentralizada: os estabelecimentos de ensino superior público – as Universidades e os Institutos Politécnicos -, as ONGD e os Municípios. Uma aplicação da metodologia de G. Hofstede : inquérito à cultura organizacional das ONGD em Portugal, Guiné e Cabo Verde diz respeito à análise dos dados recolhidos por boletim de inquérito e por entrevistas às ONGD, intervenientes quer em Portugal, quer em Cabo Verde e na Guiné – Bissau, em 2007 e 2008. Procura-se caracterizar a cultura organizacional das ONGD desses três países para compreender como esses actores funcionam na Cooperação, na lógica do Modelo dos Actores da Cooperação que o Projecto tem desenvolvido. Dado que o sector não governamental se foi organizando nos três países com muito contacto entre os seus membros, mesmo para além dos aspectos mais profissionais, a expectativa da utilidade destes dados ultrapassa claramente o Projecto, podendo constituir um elemento valioso de gestão para as Plataformas de ONGD de qualquer dos países, bem como para um melhor entendimento mútuo por parte dos restantes actores/intervenientes na Cooperação.
Citação:
Sangreman, Carlos … [et al.]. 2009. “Uma aplicação da metodologia de G. Hofstede : inquérito à cultura organizacional das ONGD em Portugal, Guiné e Cabo Verde”. Instituto Superior de Economia e Gestão. CEsA – Documentos de Trabalho nº 82/2009.

Working Paper 81/2009: A cooperação intermunicipal portuguesa
Resumo:
A cooperação descentralizada pela dimensão e importância que assume a uma escala não só local mas também mundial, contempla diferentes tipos de actuação, de estratégias, formas contratuais… sendo acompanhada por um amplo leque de factores, entre os quais se destaca “(…) a participação activa dos diversos agentes em todas as fases do processo (…)“ (MNE, 2006:40), sendo que um dos principais agentes que assume a responsabilidade de assegurar essa mesma participação, são os Municípios ou entidades equiparadas dependendo do sistema organizativo de cada país. É justamente nesse sentido que se fala, em A cooperação intermunicipal portuguesa, em cooperação Intermunicipal (CIM), que, muito sucintamente, corresponde a uma forma de cooperação descentralizada na qual os municípios envolvidos assumem eles mesmos a função de participação activa dos processos de desenvolvimento (Afonso, 1998: 25), podendo assumir diversas modalidades/vertentes que passam por geminações, protocolos, acordos de cooperação/colaboração e redes. Uma vez referenciada a cooperação descentralizada a que se seguiu à cooperação intermunicipal enquanto tipologia daquela, como já nos foi possível observar, considero ser de primordial importância fazer menção ao seguinte aspecto: a cooperação descentralizada não se limita a uma escala interna, mas também a uma escala externa.
Citação:
Ribeiro, Hermínia e Raquel Faria. 2009. “A cooperação intermunicipal portuguesa”. Instituto Superior de Economia e Gestão. CEsA – Documentos de Trabalho nº 81/2009.
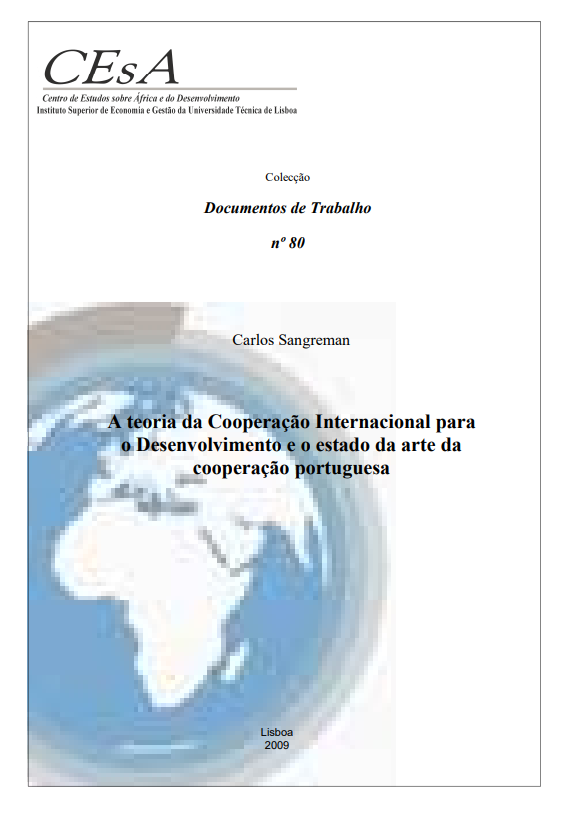
Working Paper 80/2009: A teoria da cooperação internacional para o desenvolvimento e o estado da arte da cooperação portuguesa
Resumo:
A teoria da cooperação internacional para o desenvolvimento e o estado da arte da cooperação portuguesa tem por objectivo contribuir para uma evolução de autonomização da disciplina, pela proposta de uma leitura da actividade e dos intervenientes da Cooperação Internacional para o Desenvolvimento – CID em Portugal. A emergência de uma prática de investigação que a criação em 2004 da área de Estudos Africanos na Fundação para a Ciência e Tecnologia – FCT facilita, as facilidades de horário e de edição que o Instituto para a Cooperação Portuguesa – ICP e actual Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento – IPAD proporciona aos seus funcionários para frequência de mestrados na área e publicação em colecção própria das teses, a institucionalização da investigação e do ensino que vemos no aparecimento de mestrados, de cursos pós-graduação, de módulos e de disciplinas sobre CID em diferentes Universidades, Escolas Superiores de Educação e Institutos Politécnicos, como recentemente na Universidade do Minho, ou do incentivo a doutoramentos que proporciona a criação de um programa especifico na recente Secção Autónoma de Estudos Africanos do ISCTE, inserida na área da Sociologia, ou o recente programa de doutoramento na área do desenvolvimento do ISEG, faz-nos crer que Portugal está a desenvolver um processo de melhoria do conhecimento sobre CID, que, apesar de surgir anos depois daquilo que já é feito em países como o Reino Unido, o Canadá, a França, a Suécia ou a Holanda, tem a vantagem de poder aprender com o que a “comunidade da cooperação internacional” já fez e continua a fazer.
Citação:
Sangreman, Carlos. 2009. “A teoria da cooperação internacional para o desenvolvimento e o estado da arte da cooperação portuguesa”. Instituto Superior de Economia e Gestão – CEsA Documentos de Trabalho nº 80/2009.
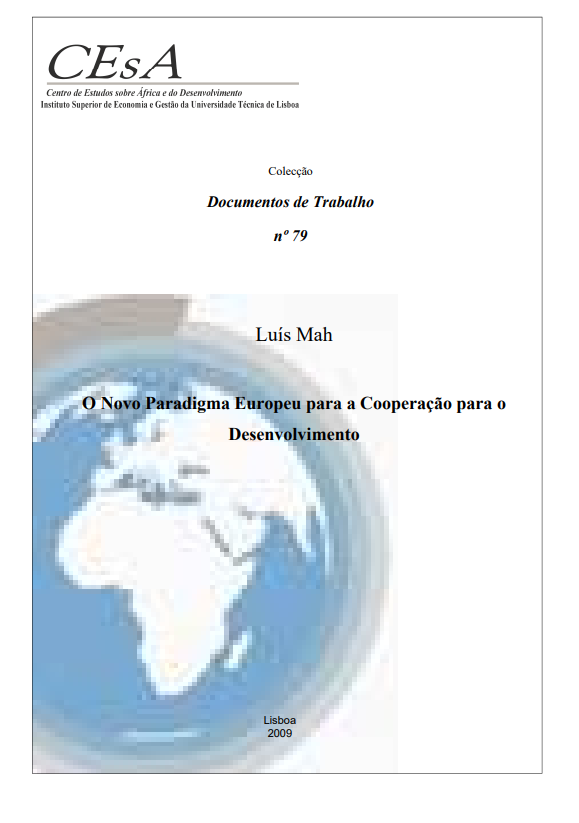
Working Paper 79/2009: O novo paradigma europeu para a cooperação para o desenvolvimento
Resumo:
A União Europeia (entendida como o conjunto composto pela Comissão Europeia e pelos Estados-membros) é o maior fornecedor mundial de ajuda pública para o desenvolvimento (APD), o principal parceiro comercial dos países em desenvolvimento e um actor crucial no diálogo político internacional. A política de cooperação para o desenvolvimento representa o principal pilar das relações entre a União Europeia (UE) e todos os países em desenvolvimento. Em Novembro de 2005, a aprovação do “Consenso Europeu sobre o Desenvolvimento” pelo Conselho dos Representantes dos Governos dos Estados-Membros reunidos no Conselho da União Europeia, pela Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu, veio definir uma nova moldura institucional orientadora para toda a acção da UE na área da cooperação para com os países em desenvolvimento. Entre os principais instrumentos para implementação desta visão está a APD concedida pelos Estados e agências governamentais europeias. O documento aprovado em 2005 veio substituir a primeira declaração da UE para o desenvolvimento de 2005, de forma a responder a novos acontecimentos a nível internacional como o 11 de Setembro e as preocupações com questões de segurança e a reflectir a parceria global em torno dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM). O novo paradigma europeu para a cooperação para o desenvolvimento analisa precisamente a implementação deste tipo de APD face aos compromissos assumidos na declaração.
Citação:
Mah, Luís. 2009. “O novo paradigma europeu para a cooperação para o desenvolvimento”. Instituto Superior de Economia e Gestão. CEsA – Documentos de Trabalho nº 79/2009.

Working Paper 78/2009: Uma proposta de Observatório da Cooperação portuguesa
Resumo:
Em Uma proposta de Observatório da Cooperação portuguesa estudamos a discussão sobre os impactos da ajuda ao desenvolvimento, que tem evoluído no sentido de reconhecer a complexidade de elementos que condicionam a evolução dos indicadores de bem-estar e de crescimento económico nos países em desenvolvimento. Deste modo, a procura de explicações para a persistência ou mesmo agravamento das más condições de vida nos PED e a escassez de resultados da APD tem aberto caminho para a reflexão sobre o funcionamento das instituições internacionais e da ajuda constatando-se por exemplo, a necessidade de se reforçarem os seus mecanismos de responsabilização, transparência e participação (Wenar, 2006: 1). Todavia o reconhecimento, no seio da comunidade internacional de doadores, de que os modelos de gestão e governação da ajuda internacional não estão a adequados aos objectivos internacionais de redução da pobreza nos PED, contribuindo muitas vezes para agudizar as fragilidades dos seus sistemas de administração pública, sendo ao mesmo tempo pouco transparentes e escrutináveis, é relativamente recente, do final da década de 90 do século XX. É em 2005, com a Declaração de Paris, sobre a Eficácia da Ajuda que se chega a um compromisso entre os países do CAD da OCDE e os países parceiros no sentido de reformar o modo como é fornecida e gerida a ajuda ao desenvolvimento. Foram, neste sentido, definidos princípios de actuação de doadores e receptores no sentido de a) apoiar o reforço de capacidades nos PED para a definição das suas prioridades e estratégias de redução da pobreza, melhorando as suas instituições e combatendo a corrupção; b) alinhar a ajuda ao desenvolvimento com os objectivos definidos pelos PED e com os sistemas locais de administração; c) harmonizar a actuação dos países doadores, evitando a duplicação de esforços e simplificando os procedimentos administrativos e burocráticos, de modo a tornar a implementação da ajuda no terreno mais eficaz e eficiente; d) focalizar a ajuda nos resultados a atingir (e na sua mensuração); e) responsabilizar, quer os doadores quer os parceiros, pelos resultados alcançados pela ajuda ao desenvolvimento (OCDE, 2005). Desde 2005 os países do Sul, num quadro de mudança do sistema internacional com a entrada de actores novos na cooperação para o desenvolvimento, como a China, têm vindo a reforçar a sua voz na discussão da governação global. Neste sentido, têm vindo a propor mudanças que permitam melhorar a predictabilidade da ajuda, mudar a assistência técnica tornando-a dependente dos PED (e não dos doadores), reduzir a condicionalidade, utilizar os sistemas nacionais e reforçar a cooperação Sul – Sul (Schulz, 2008: 2). Na realidade, a construção de relações mais equilibradas no sistema internacional de cooperação para o desenvolvimento ocorre num quadro de grande desequilibro de poder em que o risco tende a ser sempre assumido pelos países mais pobres (ODI, 2006: 2). Deste modo, importa integrar na discussão da governação global, o papel dos cidadãos nos países doadores (e as relações destes com os cidadãos do Sul), perante os quais os doadores respondem directamente, perspectivando-os como elementos numa cadeia de ligação entre os cidadãos e governos do Sul e os governos dos países do Norte. É nesta cadeia de mecanismos de feedback a vários níveis, que torna a governação da cooperação muito complexa, que nos parece fundamental procurar os mecanismos concretos que promovem a governança multiníveis na cooperação.
Citação:
Sangreman, Carlos e Tânia Santos. 2009. “Uma proposta de Observatório da Cooperação portuguesa”. Instituto Superior de Economia e Gestão. CEsA – Documentos de Trabalho nº 78/2009.